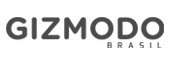Lá nos idos de muito tempo atrás, em algum momento da Idade Média, alguns pergaminhos muito velhos, ou vistos como inúteis, foram apagados. Num surto de inflação medieval, o preço ficou alto e o jeito foi jogar um mundo de letras fora e colocar histórias novas sobre o mesmo suporte. Esse prática ficou tão comum que esses pergaminhos ganharam um nome. Viraram palimpsestos.
Um patrimônio enorme foi perdido neste processo. Outro foi construído no lugar. Vários pergaminhos nasceram como Arquimedes e chegaram a 2017 como Tomás de Aquino. É impossível medir o peso do que desapareceu — resta apenas a materialidade do que ficou.
A primeira vez que li a palavra “palimpsesto” foi na Cásper Libero, onde me graduei em jornalismo. O jornal universitário, o “Esquinas de São Paulo”, fez uma edição especial com o nome “Sampalimpsesto”. Não me lembro das reportagens, mas a capa continua fortíssima na minha memória. O conceito era muito bom.
Para mim, do alto da minha ignorância, São Paulo é um palimpsesto tensionado. O passado até pode ser visualmente apagado, mas ele está sempre lá, espremendo o presente, tentando voltar à vida em forma de futuro. Um exemplo: Pinheiros é o bairro mais antigo da cidade, embora a efervescência recente dê a impressão de que ele foi inventado quando o primeiro outlet da Vans se instalou por ali. Mas Pinheiros já foi área de passagem de bandeirantes, mercado de imigrantes, zona de comércio e, agora, concentra lojas de bombas de chocolate gourmet. Porém, as ruas ainda conservam os nomes de quem inventou o bairro, as lojinhas dos japoneses, o Torra Torra da Teodoro e uma ou outra oficina mecânica ao lado de uma padaria perfumada. Pode acontecer o que for — uma parte da cidade continuará ali, lembrando o que já foi, à espreita da próxima oportunidade de virar futuro novamente.
A avenida Paulista já foi o condomínio aberto dos muito ricos, tranquila e soberana. Depois, a casa dos muito ricos foi demolida para dar lugar a prédios de empresas muito ricas — e as casas só restaram como um borrão no traçado da avenida, lembrando que algo existiu lá antes dos prédios. Vários desses prédios também já foram demolidos. Muitas empresas se mudaram de lá. E então, aos poucos, a Paulista foi virando um centro cultural, com uma enorme concentração de cinemas e, mais recentemente, de museus e centros culturais.
De todo modo, ainda resta na principal avenida da cidade um trecho de Mata Atlântica, um ou outro casarão dos muito ricos, prédios da época de centro empresarial da América Latina e, agora, os centros culturais. E esses centros culturais, de alguma forma, tentam conversar com a Mata Atlântica, com os casarões, até com as sedes das empresas que já não existem mais por ali. E, apesar de todas essas mudanças e contra todas as evidências, vez ou outra alguém insiste em chamar a avenida Paulista por algo que ela já foi, mas não é mais: centro financeiro do Brasil. Isso não existe faz algum tempo. Esse centro, provisoriamente, está espalhado por uma área que, há bem pouco tempo atrás, era uma região alagada, suja e mal cuidada: o eixo Faria Lima-Berrini.
A avenida Paulista é só o símbolo mais escancarado de uma condição perfeitamente paulistana. A disputa por espaço e por narrativas, neste pedaço do planeta Terra, é levado ao limite — e sempre dá para ir um pouquinho mais longe. Em São Paulo, em toda parte, sempre vem outra pessoa e escreve por cima da pessoa que tinha escrito por cima antes. A cidade é uma pichação num palimpsesto de concreto.
A pichação e a cidade
Todo muro paulistano, para um pichador ou um grafiteiro, serve como palimpsesto. Eles escrevem um sobre os outros, disputando a atenção das pessoas, numa guerra de narrativas sobre o que é aquele muro. São Paulo não é pichada. Ela incorporou o método da pichação na sua própria forma de existir. Mas isso não acontece igualmente em todas as partes da cidade.
Nos últimos dias de dezembro, passei pela primeira vez em cinco anos pela rua dos meus avós. Ela fica em Pirituba, um gigantesco bairro no noroeste de São Paulo, na periferia da cidade. Evitei aquele pedaço da cidade neste tempo todo porque não sabia o que meu pai e meus tios tinham decidido fazer com a casa vazia. Meu avô morreu em 2009. Minha avó, em 2011. Como minha família se move em silêncio, ninguém me disse, eu nunca perguntei — apesar da enorme importância sentimental daquela casa de mais de 50 anos com cacos vermelhos no chão, um jardim de roseiras na entrada e uma maravilhosa mesa de flores azuis e brancas onde me lambuzei de molho de macarrão inúmeras vezes aos domingos. Em dezembro de 2016, a casa não estava mais lá. Há algo parecido com um prédio sendo levantado no lugar. Só sobraram as imagens no Google Maps e uma série de memórias que eu evito ter, neste momento. E, claro, pichações nos andaimes da obra parada. Em alguns anos, só vão restar alguns vestígios daquela casa, provavelmente só na minha memória.
E essa é uma outra característica do picho à São Paulo. No centro expandido, em que a tensão é maior, a disputa por espaços é mais renhida, sempre tem alguém para pichar por cima — seja um coletivo, uma construtora, um cinema, um centro cultural, uma loja de bombas de chocolate. Na periferia, tão pichada com tinta, as memórias são apagadas, os traços se esvaem, as pessoas se mudam, a disputa entre passado, presente e futuro vira, apenas, um instante que foge. Onde reina o abandono existe pichação como tinta, mas não como método. O palimpsesto deixa de existir. É como se, naquele pergaminho, nunca tivesse existido nada antes no lugar. Em São Paulo, as favelas pegam fogo, alguma coisa é construída no lugar e a memória daqueles moradores, a história daqueles seres humanos simplesmente derrete no espaço. Vira um grande muro cinza, eternamente cinza, até ganhar atenção o suficiente para entrar na lógica do picho da cidade. Dê uma passeada pela Anália Franco, na zona leste da cidade, ou pelo que restou dos galpões da Leopoldina, na zona oeste. Está tudo lá.
Durante muito tempo, eu fiquei pensando por que São Paulo tem tanta dificuldade para criar uma narrativa sobre si. O Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, Paris é a cidade luz. Todas as grandes cidades do mundo conseguem se definir em alguma afirmação grandiosa, positiva, mesmo que isso tenha apenas uma leve relação com a realidade. São Paulo só consegue se definir bem quando avança pela negação: a cidade que não dorme, a cidade que não para, a cidade que não é para viver pelo resto dos dias, o túmulo do samba.
Não sei explicar por que São Paulo é assim. Minha hipótese é de que, por aqui, nós somos como o livro de Pirandello: personagens à procura de um autor, desesperados tentando achar uma narrativa que faça sentido. Mas, paradoxalmente, quando encontramos alguma história, ou alguém picha por cima ou passa uma tinta cinza — e muitas vezes quem faz isso somos nós (Minhocão, Parque Minhocão, demolir o Minhocão… e os moradores no entorno do Minhocão?).
No final das contas, pichador e prefeito operam na mesma lógica paulistana: escrever por cima, um do outro, eternamente, fazendo de São Paulo este palimpsesto infinito. Talvez isso seja bom, talvez isso seja ruim. Mas, para mim, viver em São Paulo é morar dentro de uma história suspensa, em que cada pessoa estica a narrativa sobre a cidade ao máximo — nem que para isso seja preciso apagar o que veio antes ou escrever por cima do que existe.