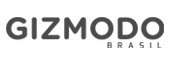A pessoa e o texto: Camila Almeida tem 24 anos. A maior parte deles vividos no Recife, apesar de ter nascido em Salvador e de morar em São Paulo. É jornalista porque adora pessoas e estuda urbanismo porque adora cidades. Nesta caminhada, acabou descobrindo que só gosta das cidades que gostam das pessoas — e vice-versa.
No seu texto de estreia para o Outra Cidade, na seção “A Minha Cidade”, Camila relembra uma história de 2011 para falar das barreiras que, aos poucos, nos acostumamos a ver em uma cidade. E, em muitos casos, essas barreiras matam (como também lembra a campanha Malditos Fios).
As barreiras que nos afastam
Do alto de um viaduto engarrafado, dava para ver a paisagem cinza entrecortada por cores. Duas pipas deslizavam tranquilas, no céu de fim de tarde recifense. Amarela e vermelha, se cruzavam, subiam, desciam, competindo por um cantinho de destaque lá no azul. Assistíamos à cena atrás dos vidros dos nossos veículos. Na avenida, trabalhadores se encarregavam de melhorar o cenário da mobilidade. Cobriam de asfalto os canteiros verdes que brotavam nas vias.
Um homem carregava um grande isopor nas costas. Caminhando por entre os carros parados, vendia bebidas aos motoristas. Fazia calor e o mormaço, agravado pela quentura do sol que tardava em se pôr, queimava. Nos intervalos do serviço, conversava, mesmo que de longe, com seus dois meninos. Um mais alto, cabeludo, outro mais novo, sem camisa. Brincavam descalços sob o viaduto, compenetrados, sem deixar de mirar o alto.

A pipa e o Recife (foto: Camila Almeida)
Os pontos coloridos que tremeluziam lá em cima sorriam do tédio de concreto. Corriam e, ao nos observar empacados, posavam. Livres, deixavam as rabiolas riscarem as zombarias que quisessem. Se esbaldavam no céu que não tinham que dividir com ninguém. E, por um momento, pareciam rir de saudade matada. Aproveitavam com graça aquele espaço como se soubessem que, há muito, já não lhes pertencia mais.
Parece que se foi o tempo em que assistir às crianças compondo a paisagem era presenciar a inocência. Passou a época em que nem cogitávamos precisar salvá-las do mundo lá fora, para sufocá-las em calendários e apartamentos. Foi-se o tempo em que a rua era o lugar das crianças. De todas elas. E que observá-las, desocupadas e encardidas, não nos fazia sentir medo, pena ou descrença, por achar que não há chance de serem melhores do que já são.
Numa quarta-feira ensolarada de primavera, um Vinícius de oito anos empinava pipa. Saiu pra brincar sob o sol a pino de meio-dia, ali mesmo no bairro onde morava. Nova Descoberta, o nome do bairro, tamanha a poesia. Sozinho, fazia subir seu pedaço enfeitado de papel. Com a linha na mão, controlava o caminho que o papagaio percorria lá no alto. Desenhava o que sonhava em forma de dança no céu e permitia que o vento sonhasse por ele também.
Só que as pipas caem. E nem sempre são fáceis de recuperar. A do menino, libertina e cheia de vontade que era, decidiu invadir um terreno perto dali. E lá foi o garoto escalar as paredes para conquistar o brinquedo de volta. Temendo assaltos à propriedade, seu dono, assim pensava, a estava protegendo com cercas elétricas sobre os muros.
E meninos caem. Se machucam, ralam o joelho, levam ponto no queixo. Como as pipas, se empinam corajosos, se deixam voar e são livres. Vinícius, quando chegasse o entardecer, não voltaria chateado com o danado sereno. Ao dono da casa, nada restava senão a necessidade de se eximir de culpa. Lançou, como quem lava as mãos, o corpo já inerte no terreno que cabe ao outro. E lá se vão nossas crianças, esbarrando nas barreiras impostas à imaginação, correndo atrás de pipas que insistem em não decolar.
Baseado, infelizmente, num caso real do Recife, em 2011.