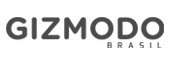Minha mãe passou a última noite dentro do carro, numa área alta de Caieiras. A chuva forte e contínua alagou as baixadas da cidade muito rápido, e transformou a tragédia coletiva em drama familiar. Como ela não tinha como ir do centro, onde trabalha, ao bairro do Serpa, onde mora desde 1989, ficou ao mesmo tempo sozinha e acompanhada. Dentro do carro, sozinha, com frio, sem banheiro. Acompanhada, em fila, junto com outras centenas de pessoas estacionadas dentro de ônibus e carros sem saber o que aconteceria nas próximas horas. Por sorte, os moradores daquelas ruas altas abriram as portas das casas delas para receber os outros, os ilhados. Nessas horas, um banheiro e um chá quente, servido às 3h da madrugada de um dia chuvoso, mostram que a esperança é a última que se afoga. Obrigado à família que não sei o nome.
O caso da minha mãe é triste, mas ao menos ela conseguiu voltar para casa hoje, às 8h da manhã. É horrível passar a noite na rua, mas a casa estava lá, para ela, quando ela conseguisse voltar. Fora o susto, não aconteceu nada demais. Na régua da Grande São Paulo, nosso drama familiar é leve. A tristeza muda de nível quando é medida por outra régua, a régua de quem morre em deslizamento, de quem vê a casa desmoronar, de quem vai passar duas noites longe de casa porque o bairro está embaixo da água.
Perto de Franco da Rocha, nossa Atlântida bissexta, arquitetada com cuidado pela mistura de descaso indolente e decisões ruins, Caieiras é uma ilha de normalidade. Até agora, não há mortos em Caieiras. Nesse mundo distorcido, não matar pessoas já te faz uma cidade diferenciada.
Nessas áreas da Grande São Paulo, a normalidade, a rotina, é medida em graus de horror. O trem estadual está sempre cheio, é velho e funciona mal. Durante os alagamentos da noite passada, alguns dos meus amigos caminharam algumas horas entre as estacões de Perus e Caieiras, pela linha de trem, escura e úmida, para chegar em casa. Quando eu era adolescente, nós andávamos 20 minutos por essas linhas de ferro e pedra para cortar caminho. Já era o suficiente para doer o pé por dias. Imagine com medo, molhado, por horas? Tratamento de esgoto, federal e estadual, não existe. Quando eu era criança, cai num desses córregos fedorentos, durante uma enchente, e fui salvo por um banco de sujeira onde fiquei atolado.
O que nós, que moramos no centro expandido de São Paulo nos espantamos, nos indignamos de vez em quando, é o ponto normal, a rotina de milhões de pessoas. Essas pessoas vivem o mundo como uma tragédia em andamento. E, de tanto viver a tragédia, o desastre se transforma no novo normal. O conforto é a exceção.
“Ah, mas elas moram lá porque querem. Ninguém obrigou as pessoas a viver ali.” Já escutei essa frase, ou variações dela, muitas vezes ao longo da vida. Eu tenho dó de quem pensa assim, e tenho vontade de dar um abraço, sincero, nelas.
Uma frase assim mostra o buraco que a falta de empatia faz na alma, a incapacidade de sentir a dor dos outros. Também mostra a distância do mundo real.
Ali, na Estrada Velha de Campinas, que corta Caieiras, passa por Franco da Rocha, atravessa Francisco Morato, as casas estão em construção e já são ruínas (obrigado, Levi Strauss, pela frase alcançada). As escolhas não estão dispostas na prateleira. A escolha é o que tem para hoje. Não é entre 50 tipos de pão. É o que consigo pagar para proteger meus filhos da chuva. Isso tira a responsabilidade das pessoas? Não. Afinal, a vida também é se organizar para conseguir o que você acha importante, e isso inclui se unir aos vizinhos para cobrar o que tem de ser cobrado da prefeitura e do governo estadual, os braços mais próximos do Estado. Mas ajuda a entender o contexto em que elas fazem as suas escolhas.
As pessoas não vão para um morro íngreme por boniteza. Numa chuva pesada, nos anos 70, boa parte da casa dos meus avós, em Pirituba, foi soterrada por um deslizamento. Eles sobreviveram — só que não tinham para onde ir. Tiveram de morar quase um ano com meu tio, no Jaraguá. Eram 10 Pereiras dividindo uma casa feita para 4 pessoas. A família precisou da ajuda dos vizinhos, dos amigos de trabalho da minha mãe e de todo o dinheiro que pudessem acumular para reconstruir a casa.
Dos anos 70 para cá, muita coisa melhorou na vida da minha mãe, dos meus tios. Mas a vida não melhorou igualmente para todas as pessoas que foram nossas vizinhas, gente com quem crescemos juntos. Na nossa régua, dormir num carro durante a noite é um absurdo traumático. Para muitas das pessoas que gostamos, isso é ruim, mas tolerável diante de outros problemas da vida.
Os governos não têm programas eficiente para oferecer um mínimo de dignidade a quem vive na região metropolitana. Mas, a cada tragédia, o Programa de Multiplicação de Desculpas Cheias de Empáfia mostra toda a sua força e desenvoltura. Há uma desproporção entre os investimentos em engenharia e os feitos em publicidade.

Enchente e deslizamento em Campo Limpo Paulista (Prefeitura de Campo Limpo Paulista)
No final das contas, só a seca salva da enchente. Ficamos entre a falta de água e o seu excesso. Em 2011, cinco anos atrás, eu estava contando uma variação dessa história que você acabou de ler quando trabalhava no portal iG. O que mudou de lá para cá foi a esperança. Em 2011, o Brasil crescia e e estava otimista. Os problemas eram grandes, mas pareciam ter alguma solução. Em 2016, a enchente jogou um balde de água suja em milhares de pessoas. A vida delas não só parou de melhorar — está piorando. Em 2011, talvez a pessoa tivesse dinheiro para trocar a geladeira perdida na água. Agora, não. Toda perda dói mais e cala mais fundo.
Esse é o Brasil real, aquele para quem os governos têm sempre uma boa desculpa, mas raramente uma solução.